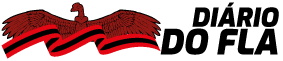Quando o juiz apitava o fim do primeiro tempo, todo mundo na arquibancada se levantava para esticar as pernas após 45 minutos de corpo – e jogo – tenso, somente o cimento liso e os degraus abaulados como assento. (Era o Maracanã, amiguinhos; não confundir com a Arena Sérgio Cabral.) Eu também – mas precisava passar o intervalo todo de costas para o campo, 15 minutos de fervorosa obediência ao ritual que assegurava as vitórias. Sem distrações nem concessões para não pôr tudo a perder.
A roupa também era estratégica. A camisa número 2, branca, modelo usado na final do Mundial de 1981, a mesma calça jeans. Detalhe extra, e fundamental: a blusa não podia ser lavada, no campeonato inteiro. Atravessava a maratona sob chuvas inclementes e toureando o suor dos dias de sol, em nome da vitória. Nas últimas rodadas, quase ia para o estádio sozinha, aprendera o caminho.
Pouco importa. Qualquer sacrifício valia pelas superstições que, desrespeitadas, fariam descarrilar o time do caminho das vitórias. Entenda bem: o sucesso, a glória, os títulos, as façanhas inesquecíveis – sem os rituais dos torcedores, nada teria se materializado. Não duvide, descrente.
No estádio e na rua, o Ciço, por exemplo, só gritava “Flamengoooooo”, assim mesmo, nome completo, o “oooooo” prolongado na capacidade do fôlego. “Mengo é muita sem cerimônia, não aceito”, repetia, tentando mobilizar os vizinhos. O Pedro só entrava pelo terceiro túnel a contar da tribuna de honra, pouco antes do banheiro. Podia estar lotado e ter um vazio logo adiante, que ele dava um jeito de vencer a multidão entulhada para chegar à arquibancada.
Antes do jogo – chegava-se cedo nessa época, crianças; 13h no máximo, para a partida às 17h –, naqueles incorretos anos 1980, era comum soltar pequenos balões da arquibancada. A torcida festejava como gol de placa quando eles venciam a estrutura gigante, até sumir no horizonte. Se caíssem dentro do estádio, o mau presságio tomava conta.
O Marco Antônio precisava sentar à esquerda de sua turma, sem questionamentos. Se aparecesse um novato desobediente, não voltava na próxima rodada. O Renato e a Laura, namorados, sempre acompanhavam a entrada do time de mãos dadas – em 1985, eles terminaram; no jogo seguinte, o Flamengo perdeu. Aliás, o momento de os craques pisarem em campo também tinha seu rito: a torcida gritava o nome de um por um, e todos tinham que acenar em agradecimento. Se falhasse…
Juninho tomava uma cerveja antes e, em caso de vitória, outra depois da partida, dentro do estádio. Maria Teresa assistia ao jogo com a camisa rubro-negra do pai na mão direita – não podia vestir, mas tinha que levar sempre.
Bonito mesmo era o sacrifício do Luiz. Ele estava na arquibancada, no dia 3 de dezembro de 1978 e não viu a bola entrar no gol de Rondinelli, que decidiu o Estadual daquele ano, contra o Vasco. Alguém pulou na sua frente. Ele entendeu como um sinal – e, nos jogos muito disputados, passou a não olhar os ataques promissores, esperando a repetição do desfecho. Como o time fazia muito gol, ele imaginou que poderia funcionar no sentido inverso, desmanchando os lances de perigo. O Luiz deixou de ver várias jogadas bonitas – mas festejou muito título.
E você aí ainda acham que ganhava por causa do Zico.